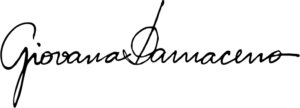Estavam na moda roupas confeccionadas em tecido de algodão, chamado pano de saco, branco. Antes de cortar o modelo, a costureira alvejava ainda mais, porque a peça deveria ser bem branquinha. Confeccionavam-se de tudo: shorts, calças, vestidos, batas, camisetas, bermudas e calças masculinas.
A menina tinha nove anos e se apaixonou pela novidade. Os olhos brilhavam quando via mulheres desfilando criações lindas, diferentes, curiosas. As artistas das novelas usavam, as repórteres do telejornal, as moças das revistas. Inspirada numa ideia que viu na TV, criou um modelito com franjas em lugar da bainha e uma barra em tecido estampado, de fundo verde. No peito, uma fita da mesma estampa passava de um lado a outro. Regatinha, zíper nas costas e pronto. A mãe lhe fizera a vontade em dois dias.
Desfilou seu vestido pra cima e pra baixo – ia à missa, ao catecismo, a festinhas de aniversário de amigas do bairro. Adorava se mirar no espelho e se encantar com o balanço das franjas roçando-lhe as coxas. Requebrava. Virava-se de costas. Passava as mãos pelo próprio corpo, acariciava o pano. Ao retirá-lo, guardava com cuidado, no cabide. Era o primeiro da fileira; queria vê-lo sempre que abrisse a porta. Quando era lavado, vigiava as mãos da mãe. Quando reaparecia perfumado e lisinho de volta ao armário, parava diante dele e se perdia de olhar.
– Tome um banho e se vista pro médico! Tá quase na hora! – bradou a mãe.
Lá foi a menina para o quarto, já sabendo o que usaria para ir no centro da cidade, na visita rotineira ao médico. Repetiu o ritual à frente do espelho, sorriu para si, penteou os longos cabelos lisos e saiu do quarto, faceira. A mãe a esperava na copa.
– O que é isso? Que ridículo é esse? Onde tá com a cabeça? Acha que vai sair comigo vestida de pano de chão? Vá já tirar esse troço, que não pretendo passar vergonha com o doutor!
Cabisbaixa, a menina deu meia volta, já puxando o zíper com a mãozinha trêmula. Sem entender nada, arrancou-o pela cabeça, lágrimas grossas descendo na face, um sentimento de desrespeito lhe alfinetando as entranhas, sem ter ainda a dimensão exata do que era desrespeito. Apenas sentia. Tentava compreender, mas não era capaz. Como nunca fora capaz, até então, de enfrentar os olhares assustadores – e muitas vezes cruéis – da mãe, de perguntar por que, de argumentar. Obedecia.
Aos prantos, porém sem um único soluço ou leve suspiro, dobrou o vestido em quatro, guardou-o no cantinho do guarda-roupas e ali permaneceu por anos. Não recorda quando se desfez dele. Lembra de um aperto doído no peito, do choro sozinha no quarto, embaixo das cobertas, ou no banheiro. A mãe também não lembra.